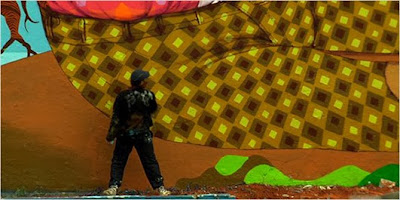Nos EUA, um best-seller sempre desperta
interesse hollywoodiano. Não importa muito o gênero (drama, terror, fantasia,
infantil, erótico, autoajuda, graphic novel), mas o número de exemplares
vendidos. Aos olhos dos produtores, a adaptação de um livro de sucesso deve
levar ao cinema, além dos tradicionais espectadores, milhares de leitores da famosa
obra original. Porém, um campeão de vendas não quer dizer necessariamente
campeão de bilheteria. Daí que, por falha matemática, muito livro encalha no
roteiro e outros claudicam diretamente no DVD.
Nem todo sucesso de bilheteria tem fórmula
pronta. Óbvio, livro é livro e cinema é cinema, cada um com a sua dinâmica. A
adaptação de páginas e mais páginas de uma obra literária para o cinema, segue
um critério, por vezes, tão discutível que, muitas narrativas, tornam-se
reconhecíveis apenas no título. Outras são meras ilustrações do texto adaptado.
O que nem sempre agrada aos leitores. É praticamente impossível transpor o
clima de um texto literário para um roteiro cinematográfico. Ou seja, manter o
cerne de um, na linguagem do outro, como se diz: não é trabalho para amadores. Todavia (por vezes) acontece de contos
e romances considerados infilmáveis resultarem melhor na telona que obras mais filmáveis.
A Menina
Que Roubava Livros (The Book
Thief, EUA/Alemanha, 2014), é um drama de guerra dirigido com tocante
sensibilidade por Brian Percival. Adaptado
por Michael Petroni, do livro
homônimo de Markus Zusak, lançado em
2005, a história se passa entre 1938 e 1945, numa fictícia cidade alemã chamada
Molching. Ali, após o “desaparecimento” da mãe, Liesel Meminger (Sophie
Nelisse), de 8 anos, é obrigada a viver com pais adotivos, o simpático Hans (Geoffrey Rush) e a severa Rosa
Hubermann (Emily Watson). Com a
ajuda de Hans, a garota é
alfabetizada e descobre o poder da palavra escrita e falada, como meio de
comunicação, entretenimento e persuasão. O único amigo de Liesel, é Rudy Steiner (Nico Liersch), um garoto, louco por
futebol, que cultiva “perigosas” ideias esportivas e é apaixonado por ela. Ambos
tentam compreender a força do nazismo emergente que arrebanha os alemães para a
guerra e alija povos e pessoas contrárias ao radicalismo do nacional-socialismo.
Assim como no livro (que li apenas o resumo), a
história é “narrada” com certa amargura pela Morte, que faz intervenções esporádicas e observações um tanto irônicas
e descartáveis. Um pequeno detalhe neste belo filme que, através do olhar
inocente de uma garota apaixonada por livros, disseca os signos da linguagem, expondo
(de forma clara) o valor de um orador, cuja eloquência (em qualquer época e ou
regime) tem o poder de entreter ou de corromper. Em seu famoso O Prazer do Texto (Le Plaisir du Texte, 1973), Roland
Barthes diz: “Texto de prazer: aquele
que contenta, enche, dá euforia; aquele que vem da cultura, não rompe com ela,
está ligado a uma prática confortável da leitura. Texto de fruição: aquele que
põe em estado de perda, aquele que desconforta (talvez provoque até um certo
enfado), faz vacilar as bases históricas, culturais, psicológicas, do leitor, a
consistência de seus gostos, de seus valores e de suas lembranças, faz entrar
em crise sua relação com a linguagem.” (p.49). E, ao falar de “escritura em
voz alta”, finaliza dizendo: “Uma certa
arte da melodia pode dar uma ideia desta escritura vocal; mas, como a melodia
está morta, é talvez hoje no cinema que a encontraríamos mais facilmente. Basta
com efeito que o cinema tome de muito perto o som da fala (é em suma a
definição generalizada do “grão” da escritura) e faça ouvir na sua
materialidade, na sua sensualidade, a respiração, o embrechado, a polpa dos
lábios, toda uma presença do focinho humano (que a voz, que a escritura sejam
frescas, flexíveis, lubrificadas, finamente granulosas e vibrantes como o
focinho de um animal), para que consiga deportar o significado para muito longe
e jogar, por assim dizer, o corpo anônimo do ator em minha orelha: isso
granula, isso acaricia, isso raspa, isso corta: isso frui.” (p. 115 e 116).
Em A
Menina Que Roubava Livro, o prazer da leitura de Liesel se dá na compreensão dos signos que desvelam os “segredos”
da construção de um texto para a escrita e para a fala. Em dois momentos
singulares ela se verá contando histórias para acalentar as almas daqueles que
se abrigam nos porões, fugindo do regime e ou das bombas. É muito significativo
que suas belas histórias brotem no escuro, em meio à dor e o caos, trazendo “luz”
ao recinto. Foi na dor de ver o corpo do irmão sendo enterrado que Liesel, sem saber do que se tratava, “encontrou”
o seu primeiro livro: “Havia uma coisa
preta e retangular abrigada na neve. Só a menina viu. Ela se curvou, apanhou-a
e a segurou firme entre os dedos. O livro tinha letras prateadas”. Ao
aprender a ler a garota descobriu que a sua preciosidade era O Manual do Coveiro. Ou seja, ao sair
das trevas (ignorância), ela encontrou a luz (conhecimento), que um dia também
se apagará. Conforme prenuncia a Morte: “Você
vai morrer. Isso preocupa você?”.
A versão cinematográfica está focada mais na
palavra (que pode levar à guerra) do que nos fatos que eclodiram na Segunda
Guerra Mundial. Não na palavra de ordem, mas naquela que pode desarmar os
espíritos mais arredios..., porque provoca a reflexão, e por isso muito mais
temida pelo totalitarismo. Alguns críticos norte-americanos esperavam (?) que o
drama, ainda que juvenil, tratasse com mais relevo assuntos clichês do gênero:
campo de concentração (outra vez?!) e sofrimento dos judeus (outra vez?!). O
filme não omite fatos relacionados aos judeus e ou à resistência ao regime,
apenas os apresenta (corretamente!) na leitura de duas crianças que (como
outros moradores do lugarejo) não conseguem dimensionar o tamanho da catástrofe,
mas sentem na pele todo o horror da guerra. Ora, este não é mais um filme sobre
o holocausto (ainda bem!), mas, sim, sobre a paixão de uma garota por livros,
por conhecimento, e que se passa no conturbado período em que também eram comuns
as famigeradas fogueiras para queimar de livros. Algumas passagens, inclusive,
nos remetem à obra-prima Fahrenheit 451
(já levada ao cinema por François Truffaut), do escritor Ray Bradbury (1920-2012). O romance distópico, publicado em 1953, foi
escrito nos porões da Biblioteca Powell, na Universidade da Califórnia, como
prova de amor aos livros e bibliotecas, segundo o mestre Bradbury.
A
Menina Que Roubava Livros é terno, é lírico, com espaço para o humor
ligeiro. Ainda que fale de opressão, seu discurso é o da esperança. A narrativa,
com bons diálogos, contagia com sua crueza, jamais cruel. Mesmo em momentos pungentes,
Percival consegue dar rasteira na pieguice e congelar qualquer ameaça de
sentimentalismo barato (a sequência das Cartas Imaginárias é admirável!). Quando
preciso, imagens e silêncio falam por si. O elenco está em perfeita comunhão
com a obra. A produção é caprichadíssima, todavia falha em não “se tocar” de
que na Alemanha Hitlerista as pessoas falavam o alemão e não o inglês (com
sotaque) – dane-se que o espectador norte-americano odeia ler legenda; e tampouco
notar o cochilo da maquiagem (no envelhecimento das
personagens e vítimas de explosões). Detalhes que (me)
incomodam, mas que não comprometem este surpreendente filme que pode ser visto
sem susto por toda a família.